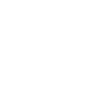CAPÍTULOS 05, 06 e 07
ROMANCE DE: Aluísio Azevedo
ANO: 1880
CLASSIFICAÇÃO:

05
O baile continuava crepitante a devorar saúde, dinheiro, e reputação, como um incêndio em que já ninguém se entende e cada um só cuida de si; com a diferença, porém, que no sinistro do fogo procura-se um meio de salvar e no do baile procurava-se um meio de perder.
O álcool, combustível perigoso, aumentava progressivamente a densidade do incêndio; as garrafas vazias tinham já maioria sobre as cheias
– sintoma infalível de desordem.
Assustador era o aspecto do salão de dança – sobreerguia-se em espirais alcoolizadas e insalubres um vozear confuso e bestial, que se podia chamar o fumo da incineração das consciências.
Entretanto, na outra sala, o jogo, como uma pústula, ia apodrecendo surdamente o que alcançava.
A razão não tinha para onde fugir – de um lado o fogo e do outro a putrefação.
Rosalina, bela, mas já dessa beleza satânica das bacanais – pendente a cabeça, requebrado o olhar e o colo nu, valsava no salão principal com um rapaz de bigodes pretos, reclinada volutuosamente sobre ele, entregues ambos ao desamparo, feliz e inebriante do prazer e da fadiga. Ele, arquejando, segredava-lhe umas coisas grosseiras e apaixonadas, e ela, ela sorria com indulgente gosto ao som venenoso das palavras que saíam truncadas e ardentes dos lábios do mancebo.
Depois de um trêmulo diálogo, imperceptível para os outros, em que deliberavam mais os olhos que as palavras, ela abaixou com prometedora ternura as pestanas, como respondendo à fixidez interrogadora dos olhos abrasados do par, e ele, com reconhecido sorriso, recolheu esse abaixar de pálpebras, que queria dizer – sim.
No mesmo instante separaram-se, e Rosalina, lançando sobre o moço um olhar significativo, desapareceu do salão, sem ser percebida.
Atravessou sozinha e ligeira duas salas, passou pela varanda, desceu a escada que conduzia ao primeiro andar, e, procurando abafar o som dos passos, apalpando cautelosamente as sombras dos corredores, chegou a uma porta, abriu-a e entrou.
Era a porta dos seus aposentos particulares, silencioso e perfumado ninho, onde o ruído do incêndio de cima chegava trêmulo e desfeito, como o murmúrio de uma tempestade ao longe.
Rosalina ao entrar correu de todo o farto cortinado de damasco e atirou-se extenuada sobre um divã. Sentia-se preguiçosamente fraca e terna, tinha uns desejos vagos e incompletos, uma moleza volutuosa e agradável que a obrigava a fechar involuntariamente as pálpebras.
Pequena lamparina de ágata espalhava nos aposentos meia claridade macia, doce, morna e sonolenta, como o olhar oriental de um elefante.
Envolvida nesse nada cor-de-rosa, a moça meditava.
– E em quê!…
Ó caprichos da imaginação! – Em Miguel. Desde que o esquecera era a primeira vez que o vulto sombrio do seu amado primitivo lhe acudia à memória; dantes acudia-lhe muitas vezes, porém ao coração. Sem saber por quê, Rosalina com tal lembrança começou a sentir o princípio de uma pontinha de remorso – tímido e flexível como o espinho ainda verde, mas já agudo. Estava em tempo de quebrar facilmente, porém já doía.
Quando de muda para Nápoles, Rosalina, como única resposta que obteve do pai a respeito de Miguel, ouviu estas duas sílabas: – Morreu.
Naquele momento, esta palavra caiu-lhe inteiriça sobre o coração como uma pedra sobre um túmulo, e, todavia, a idéia de viver em Nápoles com opulência lhe sopeara as lágrimas que porventura queriam rebentar; mas pouco tempo depois, as festas, o luxo, o amor dos homens, a inveja das mulheres e o ciúme e desespero dos desprezados, matizaram-lhe, como uma primavera cheia de luz e vida, por tal forma o coração, que as flores acabaram por esconder o grosseiro túmulo que ali jazia. E desde então Miguel fora totalmente esquecido.
Agora, mistérios do coração! Por entre as flores e por entre os risos lobrigava ela o fúnebre alvejar da pedra sepulcral; e o artista alevantava-se medonho da sepultura, como um espetro sombrio e ameaçador, a fixá-la das sombras da eternidade.
Esta visão preocupou ainda mais a bela cismadora que, suspirando, ergueu-se, passou as costas das mãos pelos olhos, e depois acendeu um lustre, como querendo afugentar com a luz o fantasma.
De repente alguma coisa lhe prendeu a atenção. – Era um som longínquo e profundo, que vinha do jardim pelo lado oposto às salas do baile; Rosalina reclinou vagarosamente a cabeça para o lado donde lhe parecia vir aquele som, gemido ou voz, suspiro ou música, e, caindo de novo no divã, quedou-se embevecida a escutá-lo.
O som lembrava ora o mugido de uma criancinha, ora o ciciar da brisa; voz da natureza ou suspirar de homem, chegava-lhe ao coração essa música como coisa estranha, impressiva e sobrenatural.
Havia nesse murmurar um não-sei-quê de humano e um não sei quê de celeste; mal se diria se eram notas gemebundas e plangentes que vinham do céu ou se uma harmonia de lágrimas, caindo gota a gota numa taça de cristal; enfim, participava tanto do céu como da terra – poder-se-ia dizer que era o roçar das asas dos anjos pelo coração do homem.
Era uma rabeca que falava a linguagem da inspiração – idioma divino só compreendido pelas almas bem formadas.
Rosalina bem conhecia o metal daquela voz; conhecia a rabeca, o arco e conhecia a música, porém a sua alma embalde se esforçava por compreendê-la ainda; produzia-lhe já o efeito de uma língua estranha digamos de uma língua morta.
E, contudo, a rabeca soluçava a última composição que Miguel lhe dedicara na casinha branca.
Apossou-se então de Rosalina um entorpecimento pesado e sombrio, um quase sonambulismo; e, nesse estado, que se pode chamar o crepúsculo entre a vida real e o sonho, sentia e ouvia, alucinada, aqueles gemidos indecisos e plangentes, que parecia saírem das profundezas da eternidade para vir condená-la no meio da fortuna e do vício.
De quem poderia ser aquele gemer? De homem certamente que não; só uma alma penada saberia gemer assim.
Então assistia-lhe vontade de chorar.
– Chorar? Por quê?
A consciência negava-lhe a resposta, como os olhos negavam-lhe as lágrimas; e o pranto não passava do coração.
Infeliz daquele a quem não é dado chorar; só o pranto afoga a dor que a vontade não vence destruir.
Lutando com tais opressões, Rosalina ergueu-se no intuito de respirar mais livremente o ar da noite; o terror, porém, não lho permitiu e fê-la estacar defronte da janela, afigurando-se-lhe que, se a abrisse, iria despertar o espírito errante, que porventura a chamava do jardim. E tomada destes sobressaltos foi se quedando triste e cismadora a escutar a música funérea.
Nisto dilatou-se a cortina de damasco, onde por acaso tinha Rosalina o olhar ferrado, e o moço dos bigodes pretos entrou risonho e sem- cerimônia no aposento.
– Ah! – Fez Rosalina voltando a si, e sorriu.
O cavalheiro debruçou-se carinhosamente e com elegante desembaraço sobre ela e, travando-a da cintura, beijou-lhe a fronte.
Desapareceu a luz e a porta da alcova fechou-se protetoramente sobre
eles.
Entanto, no jardim, o violino continuava a soluçar com o desespero
de um órfão pequenino.
06
Dois dias decorreram depois da última noite do baile; e Rosalina, como vamos ver, chegou a descobrir a origem da música esquisita e plangente, que nessa noite embalara poeticamente os seus prosaicos amores com o moço de bigodes pretos.
Antes, porém, de prosseguir, seja-nos permitido dar de passagem uma idéia ligeira do perfumoso ninho de Rosalina.
Constavam os seus aposentos particulares simplesmente de uma sala vermelha e de uma alcova cor de lírio, ligadas entre si por elegante portinha, em cujos ornatos entalhados dos olivares, florões polidos de encarnado carmesim sobressaíam, como espumas de sangue, da brancura natural da madeira. De uma única janela existente na sala debruçava-se sobre o jardim pitoresca balaustrada de mármore rajado, feita e disposta ao antigo gosto veneziano. A sala era oitavada, guarnecendo-lhe as faces do octógono quadros do mesmo feitio, que molduravam em metal branco brunido formosas gravuras sobre aço; as cortinas da mesma cor das paredes, prendiam-se graciosas em cornijas também de metal branco, uniformizadas pelo brilho com as reluzentes peanhas dos ângulos das paredes e com os trabalhados tamboretes igualmente de metal. Os pés de quem tivesse a fortuna de entrar neste paraíso elegante, desapareciam silenciosamente no tapete, cuja felpa abundante e sedosa dava ao andar de quem o pisasse a suavidade volutuosa dos passos macios do gato – parecia andar a gente descalça sobre algodão em rama. No centro desta luxuosa salinha, uma mesa redonda de pé-de-galo, coberta por magnífica casimira da China, sustentava um candeeiro de alabastro, com listrões de ouro lavrado; num dos ângulos das paredes, mimosa escrivaninha mostrava o necessário para ler e escrever num outro, acomodava-se belo esquentador de pedra negra, guarnecido por um relógio de bronze e dois soberbos vasos de porcelana do Japão. O mais seriam cadeiras, divãs estofados, cristais da Boêmia e uma infinidade de nadinhas do luxo, que dão a qualquer sala um aspecto embonecado e fútil.
A alcova cor de uno apenas tinha, pouco mais ou menos, o lugar suficiente para o toucador e para a cama, da qual à direita pelo lado inferior equilibrava-se suspenso um enorme espelho de Veneza, onde se refletia todo o quarto e principalmente o leito; e do lado esquerdo, à cabeceira, encostava-se um bufete, onde se via uma garrafa de cristal-de-rocha cheia de falerno, rodeada de delicadíssimos cálices e doces cristalizados e apetitosos; aos pés da cama, vasta tapeçaria representava com muito engenho o grupo sublime das três graças de Canova.
O relógio marcava meia-noite. Rosalina fitava-o, reclinada pensativa em um divã, acompanhando maquinalmente o tique-taque da pêndula com a pontinha do pé, dobrando e desdobrando um papel cor-de-rosa, que tinha entre os dedos.
Ia triste e silenciosa a noite; só se ouvia distintamente a pulsação monótona dos segundos. Impressiona sempre ouvir o pulsar de um relógio
– afigura-se-nos sentir palpitar o eterno coração do tempo.
Rosalina, depois de longo e profundo cismar, brandiu para trás os tenebrosos cabelos, e levantou-se, como se tivesse chegado intimamente a solução de qualquer dúvida. E fazendo com a cabeça esse movimento sacudido que tão bem exprime a indiferença, disse, despregando de leve os lábios com um quase imperceptível estalar de língua: – Seja!
Depois, muito tranqüila de si, levantou-se, espreguiçando-se, despreocupadíssima, e foi amarrar no marmóreo balcão da varanda, branquejada frouxamente pelo luar, o seu claro lencinho de rendas francesas, como quem arvora um sinal.
07
Efetivamente o lenço de rendas francesas, que Rosalina amarrou no peitoril de sua janela, era um sinal e – coisa mais de pasmar – era um sinal dirigido a Miguel.
O artista não morrera; e para clareza desta narrativa seja-nos lícito voltar atrás.
No momento fatal em que Maffei precipitou dos rochedos de Lípari o inflexível amante da filha, perdeu este os sentidos, dando de encontro à pedra aprumada e foi rolando, rolando, até atufar-se de todo nas espumas rendilhadas do mar. Com tanta fortuna se houve porém neste cair, que dele apenas lhe sobreveio um ferimento na cabeça.
O mar estava crescido. Foi a salvação do moço, porque ao dar na água voltou a si com o choque, e, conhecendo quão perigosos são os rochedos de Lípari e quão selváticas as ondas contra eles, tratou de nadar ao largo em vez de demandá-los; tempo este em que a tempestade queimava nos altos seus últimos cartuchos.
Afinal serenou de todo o tempo. Miguel, apesar de ajudado pela correnteza, costeava dificultosamente a ilha na direção da praia, semelhando uma visão que fugia das trevas úmidas da morte, seguida de um rastilho de sangue.
Cinco horas depois era rejeitado na praia pelo mar.
Iam pouco e pouco se rarefazendo as nuvens e já em alguns pontos do céu se percebia uma modesta claridade, precursora do bom tempo. A lua, voltando do susto, foi aos poucos saindo do esconderijo, medrosa e tímida de seu natural, porquanto quando há qualquer desarmonia no céu é ela quem primeiro se esconde.
Por este tempo já permanecia de bruços o náufrago na praia; a areia bebera-lhe indiferente o sangue da ferida, que afinal estancara. Nesta postura ficou ele, falecido sem ânimo e forças, uma hora, como se estivesse a dar um demorado beijo na face da mãe salvadora, a terra – pelo seu bom regresso.
Ao voltar de todo a si, volveu instintivamente o olhar pisado para o céu, que, nesse momento desassombrado e azul, refletia nas águas os olhares prateados de sua argêntea e bela pupila.
Quando se deixa ou volta à vida, o que primeiro procuram os olhos é o céu. – Há consolação e amparo na alma azul do infinito; o azul é a cor da salvação, como o negro é a do aniquilamento.
E por que confiamos tanto no azul do céu, sem talvez o compreender ao menos?
É que ele é a única coisa verdadeiramente grande e imensamente bondosa. – O oceano é gigantesco, porém abisma; o nordeste imponente, porém destrói; a terra é mãe, porém devora; o sol é rei, porém abrasa; só o céu é infinitamente bom. As estrelas brilham como uma aluvião de libras esterlinas e no entanto ele é humilde e modesto, sabe unicamente ser infinito, azul e consolador.
Jamais se queixou ninguém do mal que lhe fizesse o azul do céu!
Por isso meditava Miguel, estendido na areia, a fitar o espaço em muda e reconhecida contemplação; finalmente tentou pôr-se de pé, levantou-se cambaleando e amarrou a ferida da cabeça com um lenço ensopado, que tirara da algibeira. Depois sacudiu tranqüilamente a areia molhada do fato e dos cabelos e pôs-se a andar com dificuldade.
Encaminhava-se lenta e investigadoramente para o mar, como a procura de alguma coisa, até reconhecer o mourão em que, se lhe não enganava a memória enfraquecida pela pancada e perda de sangue, tinha amarrado o barco.
De fato; mas deste só restavam dependurados da estaca, como relíquias de guerra, a corda e um fragmento da proa.
E nada mais havia do barquinho – o nordeste despedaçara-o de encontro à praia, da mesma feição que a tempestade dos nossos pensamentos despedaça contra as paredes do cérebro uma idéia fixa, que se agarra à imaginação; o remorso também pode atirar o homem preso contra as arestas do cárcere; a dor oprime o coração contra o peito e quebra-o; o terror, enfim, mata o feto atirando-o contra as paredes do ventre materno. – É sempre a mesma lei eterna da luta entre a covardia da tempestade e a fragilidade do peso.
Miguel, acabando por se identificar com a situação e aceitando-a horrível e estéril tal qual se oferecia, começou a passear pela praia, com essa calma inexplicável do homem cônscio da sua desgraça, que procura recrear-se amargamente com os destroços da passada ventura; ora topava um pedaço de madeira enterrado na areia, ora dava com alguns destroços do leme ou do casco, e, à proporção que os ia descobrindo, atirava-os à boca aberta do mar, como um domador que, depois de dar de comer à fera, ajunta-lhe ainda as migalhas caídas por fora da jaula.
Continuando a exploração, descobriu um fragmento de madeira amarela, que lhe prendeu mais o respeito – era o braço da sua rabeca.
O artista ficou a olhá-lo amargamente com a mágoa de uma mãe que contemplasse o cadáver do fllhinho; depois, num assomo de ternura frenética, levou-o repetidas vezes aos lábios, beijando-o apaixonadamente.
O incêndio levantado por Maffei veio tirá-lo desse êxtase. Clarão vermelho e sinistro iluminava de um golpe toda a ladeira.
Miguel voltou-se para o lado do fogo, meteu cuidadosamente o pedaço da sua rabeca entre a blusa e a camisa, limpou com a manga uma lágrima que lhe pendia das pestanas e encarou firme as línguas de fogo, que singravam do teto carbonizado da casa de Maffei.
Mas o fogo é na casinha branca!, pensou rapidamente o moço, e tentou correr para o lugar do sinistro.
E Maffei?!, bradou-lhe a consciência.
Esta observação interior fê-lo parar e cruzar involuntariamente os braços.
E Rosalina?! interrogou por sua vez o coração; e, antes que a razão interviesse para o dissuadir, deitou a correr, o melhor que pôde pela ladeira.
Então é que o incêndio principiava a assumir a categoria de uma monstruosidade.
Nas praias batidas, como aquela, por ventos contrários, um incêndio é sempre coisa fácil e decidida no mesmo instante.
A idéia de Rosalina em perigo restituiu ao amante naufragado as forças perdidas até ali, de sorte que em menos de um quarto de hora, correndo como um possesso, tinha ele vencido a ladeira. Com os fatos molhados de suor, de chuva, de mar e de sangue, atravessou rapidamente a porta do fundo da casa, entrou pelos quartos incendiados, pisou brasas, percorreu como uma sombra todos os cantos acesos, e suando, vermelho, doido, sublime, cheio de lama, gritando, gesticulando, sem chapéu, sem gravata, com as pestanas tostadas, a carne inchada com o calor, os cabelos queimados e cobertos de cinza, o corpo coberto de faíscas, ora desaparecia entre as chamas, ora tropeçava nas vigas abrasadas, caía, levantava-se e saltava, gritando como uma fúria:
– Rosalina! Rosalina!
E o crepitar do fogo parecia rir-se dos seus apelos.
– Rosalina! Não ouves?! Ó meu Deus! Mãe Ângela! Nada.
O isolamento aterrava-o mais do que a imponência do incêndio e, sem dar fé que lhe chiavam as carnes assadas e que lhe escorria gordura derretida pelos membros, continuava a gritar:
– Rosalina! Rosalina! Estou aqui! Onde estão vocês? Respondam!
– Estariam todos mortos ou em tão pouco tempo teriam partido?
– Rosalina! Minha Rosalina?!
E disforme, desesperado, febricitante, horrível, atravessou soluçando a sala; topou um pente de tartaruga, abaixou-se, apanhou-o, beijou-o e guardou-o no seio em menos de um segundo e a correr saiu pela porta do fundo, como quem acabasse de atravessar o inferno, exclamando furioso:
– Ninguém! Partiram, bradou levantando o braço para o céu ameaçadoramente. No momento, porém, em que apostrofava, sentiu firmarem-se-lhe no estômago duas patas de cão.
– Castor! – gritou o moço caindo de joelhos.
– Oh! – disse voltando para o céu os olhos arrependidos. – Ainda me resta um amigo!
E abraçou-o soluçando.